2. Política de segurança pública brasileira: do autoritarismo à intenção democrática
Introdução
Neste capítulo, a preocupação foi apresentar o desenho da velha política de Segurança Pública, fundamentada pela idéia de poder e força, tendo como substrato o monopólio estatal da violência, a partir de 1964, fortemente associado à ideologia militar, apoiada pela Doutrina de Segurança Nacional, introduzida na segurança a partir da instauração do regime autoritário. Assim, é feita a alusão ao autoritarismo político, tomado como forma de governo e ao autoritarismo social, visto como um elemento cultural característico da sociedade brasileira, fruto da herança escravocrata e colonial, acomodado ao capitalismo.
Contudo, procura-se mostrar que o golpe deflagrado pelos militares consistiu em manobra política articulada a setores sociais e políticos, opositores do governo João Goulart que não correspondia aos interesses da classe dominante.
Desse modo, enfatiza-se o uso da política de Segurança Pública como instrumento político de garantia da ordem pública antidemocrática, cabendo, portanto, sua reestruturação tendo em vista o recrudescimento da força, além da gestão da referida política ser centralizada na figura do governo militar.
À medida que os governos militares não correspondem aos interesses dos setores da sociedade que os apoiaram e as forças de oposição ganham espaço, instala-se o processo de restauração da democracia, culminando, em 1988, com a passagem do autoritarismo político à democracia, quando se define o desenho do novo Estado brasileiro caracterizado como democrático de direito.
Contudo, o foco principal consiste exatamente na não reconfiguração da velha política de Segurança Pública consoante a nova ordem político-jurídica, diferentemente das demais políticas públicas, mantendo-se representada pela centralidade do poder autoritário e a força/violência em detrimento dos Direitos Humanos. Ademais, o velho modelo de Segurança Pública, além da incongruência com o Estado que se inspira em princípios democráticos, representa um desafio ao Estado brasileiro em função da sua incapacidade de garantir o direito à segurança do cidadão, em correspondência às demandas emergentes a partir do crescente problema de violência e criminalidade, sobretudo a partir da década de 1990.
2.1. A Segurança Pública antidemocrática
A categoria autoritarismo, configurada como concentração de poder pelo Estado segundo uso corrente na ciência política, apresenta-se em contraposição à democracia. Nessa perspectiva, a idéia de autoritarismo é remetida à relação estabelecida entre Estado e sociedade, sendo materializada pelo regime de governo adotado em determinado contexto em contraposição à democracia.
Segundo o italiano Mário Stoppino (1999, p.92) "são chamados de autoritários os regimes que privilegiam a autoridade governamental, concentrando o poder político nas mãos de uma só pessoa e colocando em posição secundária as instituições representativas".
Portanto, o governo autoritário tem como características essenciais ignorar o consenso, renegar a participação popular, aniquilar o pluralismo político, suprimir as liberdades, desconhecendo os direitos dos cidadãos em substituição aos interesses do Estado, norteando-se na relação com a sociedade pela força/violência com vistas à imposição de interesses do governo ou do grupo que o compõe.
Para Marilena Chauí (2007), a desigualdade social crescente, na sociedade brasileira, apresenta-se estruturada hierarquicamente, chegando a caracterizar o autoritarismo no contexto brasileiro em dois sentidos: no âmbito político e no social. Portanto, além do autoritarismo caracterizado como fenômeno político, que periodicamente afeta o Estado, não se deve esquecer que a sociedade brasileira é autoritária e dela provêm diversas manifestações de autoritarismo social.
Afirma a estudiosa que esse autoritarismo tem como substrato as desigualdades sociais que se apresentam de forma hierarquizada, acentuadas pelo capitalismo selvagem, tendo como base a matriz senhorial e escravocrata. Acrescenta que nesse lastro do autoritarismo social existente, é que o princípio de igualdade formal, nos termos liberais, encontra terreno fértil, enquanto se faz operar a idéia de que alguns são mais iguais do que outros (CHAUÍ, 2007).
Nesse sentido, corrobora Evelina Dagnino (2004) que advoga a existência do autoritarismo social na sociedade brasileira, configurado como um ordenamento social presidido pela organização desigual do conjunto das relações sociais e pela hierarquia, caracterizada pelo não-respeito às diferenças. Esse, por sua vez, se sustenta na naturalização das desigualdades, ignorando as diferenças sociais, ao mesmo tempo em que não reconhece direitos, mas sim privilégios.
Faz sentido, porém, destacar o pensamento Stoppino (1999) ao dizer que as doutrinas autoritárias modernas são antiracionais e antiigualitárias, porque enquanto naturalizadas partem do pressuposto de que o ordenamento social:
(...) não é uma organização hierárquica de funções criadas pela razão humana, mas uma organização de hierarquias naturais, sancionadas pela vontade de Deus e consolidadas pelo tempo e pela tradição ou imposta inequivocamente pela sua própria força e energia interna. De costume, a ordem hierárquica a preservar é a do passado; ela se fundamenta na desigualdade natural entre os homens (1999, p. 96).
Os traços apresentados acima, com relação ao pensamento autoritário, sem sombra de dúvidas, convergem para as características antidemocráticas que perpassam a sociedade brasileira, interpenetrando as relações sociais, bem como as mentes e corações dos indivíduos. Fica, portanto, implícito que por trás do autoritarismo político encontra-se o autoritarismo social, perpassando a cultura com um todo. Convém lembrar, que a naturalização das desigualdades sociais sempre foi, convenientemente, usada em defesa de interesses da elite dominante, em diversos momentos da história brasileira.
De certo modo, corroborando com essa assertiva, o Professor de História da USP Daniel Aarão Reis, defende que o autoritarismo político que deu sustentação a deflagração do golpe pelos militares, contra o governo João Goulart, em abril de 1964, não representou o pensamento isolado das Forças Armadas, mas foi pactuado com setores da sociedade brasileira. Afirma o autor (2002, p. 12), que o golpe civil militar (1) "não foi um raio que desceu de um céu azul. Ao contrário, resultou de uma conjunção complexa de condições, de ações e de processos", contanto, com apoio efetivo de políticos e forças sociais de direita, que saem às ruas para comemorar a derrocada de Jango.
A ditadura civil militar teve uma base social e política que antecede a conjuntura de 1964. O ano de 1946 constitui um marco para a história da democracia no Brasil, uma vez que a Constituição brasileira promulgada estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres com relação ao direito de votar e ser votado. Ampliou, a partir de então, os direitos políticos de ambos os sexos e com idade mínima de 18 anos, com ressalva para brasileiros analfabetos. No que se refere aos direitos sociais foram mantidas as conquistas alcançadas formalmente, no período anterior, pelos trabalhadores urbanos.
Enquanto isso, em termos de prática política, o ano de 1945 é considerado o marco da primeira experiência democrática vivida pela sociedade brasileira. A despeito dessa afirmativa, alguns autores consideram que teria sido uma frágil experiência de democracia. Segundo o Sociólogo Francisco Weffort, a fragilidade da prática democrática ensaiada nessa conjuntura "dependia menos do entusiasmo da burguesia pelas formas democráticas do que das pressões sociais criadas por uma massa popular urbana que recém ingressava no cenário político" (1998, p.493).
Independentemente da intensidade do processo democrático e dos protagonistas em cena, o fato é que de 1945 até 1964 registra-se um processo de mobilização, na sociedade brasileira, face ao agravamento das injustiças sociais resultantes da má distribuição de renda, impulsionando o crescimento da participação política dos trabalhadores urbanos que passaram a denunciar as precárias condições de trabalho e sobrevivência, seguidos dos trabalhadores rurais em face da agudização dos conflitos agrários, sobretudo na região Nordeste.
Esse processo de luta dos trabalhadores da cidade e do campo representa seu posicionamento contrário face ao projeto democrático-liberal restritivo, caracterizado pela fragilidade das instituições públicas, pela debilidade da democracia representativa e participativa, bem como pelo não-acesso aos Direitos Humanos e pela precariedade das condições de trabalho.
Durante o governo João Goulart (1961-1964), os trabalhadores em luta ganharam maior expressão no cenário político. Além da força política demonstrada pelo movimento operário e pelas organizações dos trabalhadores rurais, sobretudo as Ligas Camponesas, destaca-se o engajamento político da União Nacional dos Estudantes - UNE. Esses movimentos sociais apresentam-se fortalecidos ao incorporar as propostas de reformas de base do governo, que convergiam para a tentativa de modernizar o capitalismo e amenizar as desigualdades sociais.
O Programa Reforma de Base, adotado pelo governo João Goulart, representa de forma efetiva o renascer do sonho "desenvolvimentista autônomo com base em um projeto nacional estadista", (REIS, 2002, p. 16) difundido na década de 1930 pelo governo Vargas. O programa contempla:
A reforma agrária, para distribuir a terra, com o objetivo de criar uma numerosa classe de pequenos proprietários no campo. A reforma urbana, para planejar e regular o crescimento das cidades. A reforma bancária, com o objetivo de criar um sistema voltado para o financiamento das prioridades nacionais. A reforma tributária, deslocando a ênfase da arrecadação para os impostos diretos, sobretudo o imposto de renda progressivo. A reforma eleitoral, liberando o voto para os analfabetos, que então constituíam quase metade da população adulta do país. A reforma do estatuto da capital estrangeiro, para disciplinar e regular os investimentos estrangeiros no país e as remessas de lucros para o exterior. A reforma universitária, para que o ensino e a pesquisa se voltassem para o atendimento das necessidades sociais e nacionais (REIS, 2002, p. 24).
O conjunto das propostas de reformas dotadas pelo governo convergia para os interesses dos trabalhadores, enquanto contrariava interesses da classe média e grupos políticos de oposição. Diante o confronto de interesses, emergiu um amplo debate na sociedade brasileira sobre o Programa Reforma de Bases. De um lado, posicionam-se os protagonistas sociais, constituídos pelos trabalhadores urbanos e rurais, estudantes e políticos a favor das reformas apresentadas pelo governo. Como diz Reis (2002, p. 24), esses atores sociais estavam nas "ruas, nas greves e nos campos, agitavam-se os movimentos sociais, reivindicando, exigindo, radicalizando-se."
De outro lado, fortemente organizados encontravam-se os opositores ao governo formados pela classe média, setores da Igreja Católica, representantes do poder econômico, sobretudo latifundiários e políticos conservadores, que percebiam qualquer mudança favorável aos trabalhadores como ameaça aos seus privilégios e de seus representados. Desse lado encontravam-se:
(...) notórios conspiradores de todos os golpes, desde que se fundara aquela república em 1945, os mesmo que haviam se ativado na tentativa de impedir a posse de Goulart, encontrava-se agora defendendo a constituição e a legalidade da ordem vigente. Falavam palavras ponderadas, aconselhavam ritmos lentos, invocaram a razão e a religião, condenavam excessos e radicalismo e se exaltavam pregando a moderação (REIS, 2002, p. 29).
Mas, como alerta o mesmo autor, os que sempre atacaram, apenas esperavam a hora certa para dar o bote, enquanto se instalava uma crise sem paralelo no poder instituído. Para enfrentar as forças políticas de oposição, estrategicamente, o governo buscou apoio nos dispositivos militares e nas forças populares, fomentando mobilizações sociais e, através de decreto, dava início às reformas de base. Um "grande comício foi realizado a 13 de março, no Rio de Janeiro. Cerca de 150 mil pessoas aí se reuniram, sob a proteção de tropas do I Exército, para ouvir as palavras de Jango e Brizola" (FAUSTO, 2006, p.253).
Nesse comício, dentre outras bandeiras de lutas correspondentes aos interesses dos trabalhadores, reivindicou-se a legalização do Partido Comunista, a reforma agrária, etc. Na ocasião, publicamente, o governo Goulart chegou a assinar dois decretos contrariando interesses de grupos opositores. O primeiro deles, com caráter mais simbólico, consistia na desapropriação das refinarias de Petróleo, que não se encontravam ainda sob o domínio da Petrobrás. O segundo declarava que as terras subutilizadas, estariam sujeitas à desapropriação. E, para aumentar a fúria dos oponentes ao governo, foram anunciadas a reforma urbana, com mudanças nos impostos e a concessão do voto aos analfabetos e às hierarquias inferiores das Forças Armadas.
O anúncio dessas medidas somado à crise gerada na Marinha, a partir da proibição do Ministro da pasta à realização de uma reunião da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil (AMFNB), representou a antecipação do fim do governo Jango. Por conseguinte, num cenário democrático demarcado pela mobilização popular, interpretado como contexto de ameaça à ordem social e política vigente, em correspondência as forças opositoras ao governo republicano, as Forças Armadas deflagraram, em 31 de março, o golpe de estado.
Assim, foi instalada a "ditadura civil militar". Como forma de justificar o golpe de Estado os militares usaram como pretexto a necessidade de livrar o país da corrupção, do comunismo e de restaurar a democracia, prometendo a melhoria das condições de vida das classes populares (FAUSTO, 2006).
Portanto, defendendo os anseios da classe média, - que renegava as propostas do Programa Reformas de Base -, os militares tomaram o governo, defendendo a "limpeza social e política", bem como o desenvolvimento econômico e a necessidade de um Estado forte (FAUSTO, 2006, p. 257).
Desse modo, foi interrompida abruptamente a primeira experiência democrática brasileira por meio do autoritarismo político convertido em concentração do poder político e força militar, cujo comando no Estado brasileiro estendeu-se por 21 anos.
Para consubstanciar o autoritarismo político adotou-se a figura jurídica do Ato Institucional, em substituição a Constituição. Tal instrumento normativo tornou-se a referência prioritária para garantir a ordem autoritária, enquanto ignorou-se a Constituição e foram suprimidos poderes do Congresso Nacional, apesar de mantê-lo em funcionamento.
Os militares evocaram para si o Poder Constituinte, sob a justificativa de que esse instrumento normativo era "originário da revolução vitoriosa". O argumento principal para o golpe, assim como para o uso de medidas autoritárias do governo militar, conforme consta no Ato Institucional nº 1, foi de que o país estava vivendo uma "autêntica revolução" (BRASIL, ATO INSTITUCIONAL Nº 1, 1964).
Segundo a linguagem textual empregada no Ato Institucional nº 1/64, a preocupação primeira dos militares foi empregar o discurso mistificado pela ocorrência de "revolução", por eles liderada, contra as forças políticas "subversivas", mais precisamente, contra grupos sociais que defendiam ideias comunistas, como forma de justificar a partir de então os feitos autoritários.
Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País. Destituído pela revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do Poder no exclusivo interesse do País. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, apenas, na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo como nas suas dependências administrativas. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se acha investida a revolução vitoriosa, resolvemos, igualmente, manter o Congresso Nacional, com as reservas relativas aos seus poderes, constantes do presente Ato Institucional (BRASIL, ATO INSTITUCIONAL Nº 1, 1964).
Por outro lado, havia a preocupação explícita por parte dos militares em legitimar o que denominaram de "movimento revolucionário". Sob esta ótica, alegava-se que o movimento representava a inspiração do povo brasileiro. Segundo esse entendimento, no Ato Institucional nº 2, adverte-se que a revolução em curso "distingue-se de outros movimentos armados pelo fato de que traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação" (BRASIL, ATO INSTITUCIONAL nº 2, 1965).
Sob alegações dessa natureza, foi instituído o Estado autoritário, fundamentado na Doutrina de Segurança Nacional (2), cujo objetivo primordial consistia na defesa do Estado nação, transformado em Estado de guerra (3) - contra o inimigo externo, conforme preceitos da Escola Superior de Guerra - ESG.
Todavia, de fato o que estava em questão era a preservação dos interesses das classes dominantes, que convergiam para a garantia do sistema capitalista, assim como para a garantia da ordem social estabelecida. Com efeito, desconsiderando a Constituição de 1946, que trazia a concepção de segurança nacional associada à agressão externa, a ditadura militar a incorporou como se existisse uma ameaça à fronteira ideológica, devendo ser combatidos os ideais de mudança de cunho comunista.
Nessa perspectiva, a responsabilidade de defesa da segurança nacional não se limitaria às Forças Armadas, sendo atribuída a toda pessoa física ou jurídica da sociedade a incumbência por sua garantia e o dever de fornecer informação sobre as atividades daqueles considerados pelo Estado como 'inimigo interno'. O indivíduo que não fornecesse "informação sobre as atividades daqueles considerados pelo Estado como parte do 'inimigo interno", poderia ser penalizado criminalmente (ALVES, 1987, p. 108).
De acordo com o pensamento de um dos protagonistas da ditadura militar, o marechal Castelo Branco, constante na obra Doutrina Básica da Escola Superior de Guerra,
(...) a segurança nacional remete à defesa global das instituições, incorporando, por isso, os aspectos psicossociais, a preservação do desenvolvimento e da estabilidade política interna [...] o conceito de segurança [...] toma em conta a agressão interna, corporificada na infiltração e subversão ideológica (BRANCO, Apud BRASIL, Escola Superior de Guerra, 1979, p.192).
Recorrendo-se a Hernando Valencia Villa, entende-se que a segurança nacional se constituiu numa doutrina "antidemocrática que serviu de sustentação às ditaduras na América Latina, na segunda metade do Século XX, justificando a violação ampliada e sistemática dos direitos humanos em muitos países do hemisfério ocidental" (4) (2003, p.385).
Segundo essa perspectiva, difundiu-se a ideologia de segurança nacional com vistas à preservação do Estado autoritário, no qual os governos militares revestidos de plenos poderes defendiam a expansão da economia capitalista (5), ao mesmo tempo em que suprimiram direitos, apoiados pelos órgãos da Segurança Pública, enquanto seu alvo era constituído por todo cidadão que se manifestasse contrário ao sistema político e econômico vigentes.
Nesse contexto, usava-se de forma mistificada o termo revolução, para justificar a necessidade de guerra contra o inimigo interno, enquanto a Segurança Pública passou ser considerada como instrumento de poder e força indispensável à garantia do Estado autoritário, fazendo-se indispensável sua reestruturação. Portanto, de imediato o comando da Segurança Pública, que era de domínio dos governos estaduais, passou para o Governo Federal, com vinculação direta ao Conselho Nacional de Segurança - CNS, ao qual coube a sistematização e gestão de sua nova intervenção.
O referido órgão (6) fora criado no governo Vargas, conforme aparece na Constituição de 1934, recebendo a denominação de Conselho Superior de Segurança Nacional, com a finalidade de estudar e coordenar todas as questões relativas à segurança nacional. Nessa época, a segurança nacional era entendida como defesa externa do Estadonação, ou seja, o que estava em questão era a segurança do Estado em situação de guerra.
Todavia, na ditadura militar as atribuições e a concepção do Conselho foram revistas, ao ser transformado em "órgão de mais alto nível de assessoramento direto do presidente da República, na formulação e na execução da política de segurança nacional", nos termos do Decreto-Lei nº 200, de fevereiro de 1967, que sofreu uma série de modificações. (BRASIL, DECRETO-LEI Nº200, 1967).
No Decreto, delegou-se ao Conselho a competência de formular a Política de Segurança Nacional consoante o estabelecimento do "Conceito Estratégico Nacional". E no que se refere à execução dessa política, determinou-se que o Conselho deveria levar em consideração os problemas apresentados na conjuntura nacional ou internacional. Com essas credenciais, o Conselho de Segurança Nacional passou a ser o carro-chefe da política de governo, implementada em todo o país. (BRASIL, DECRETO-LEI Nº200, 1967).
Portanto, presidido pelo presidente da república e imbuído de todos os poderes, o órgão assume o comando da política de segurança pública, ao ser esta unificada à segurança externa através de uma política comum, além de passar a ser articulada às demais políticas de governo. Destaca-se, portanto, aqui, o papel do Conselho Nacional de Segurança quanto ao poder de controle e articulação entre as políticas de governo.
Com efeito, sob a orientação do Conselho de Segurança Nacional, as forças repressivas dos Estados - instituições policiais - foram reorientadas com base na Doutrina de Segurança Nacional, ao se eleger como foco de intervenção "áreas específicas e estratégicas sensíveis, de possível oposição: política, econômica, psicossocial e militar", sendo igualmente adotado um conjunto de medidas denominadas pelo militares de "Operação Limpeza" (ALVES, 1987, p. 56).
Conforme assinalado acima, a segurança pública, nesse contexto, equipara-se à "defesa do país contra a ocupação de um exército estrangeiro" (1987, p. 40) A não-distinção entre o que fosse uma política de segurança pública (interna) e a política de segurança nacional (externa) remete ao uso de técnicas contra ofensivas diversificadas desde:
(...) medidas de segurança rotineiras como a verificação de documentos, ou vigilância e outros métodos de coleta de informação até medidas de emergência e a mobilização total do poderio das Forças Armadas para enfrentar situações de 'pressão' (7), ou seja, de contestação organizada ou individual à autoridade do governo (ALVES, 1987, p. 44).
De forma concisa, Murilo de Carvalho descreve o que teria sido a atuação simultânea dos órgãos que compõem a segurança pública (interna) e a segurança externa, que atuavam indistintamente em nome da defesa da segurança nacional.
A máquina da repressão cresceu rapidamente e tornou-se quase autônoma dentro do governo. Ao lado de órgãos de inteligência nacionais como a Polícia Federal e o Serviço Nacional de Informação (SNI), passaram a atuar livremente na repressão os serviços de inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das polícias militares estaduais; e as delegacias de ordem social e política dos estados. Dentro de cada Ministério e de cada empresa estatal foram criados órgãos de segurança de informação, em geral dirigidos por militares da reserva (CARVALHO, 2005, p. 163).
As práticas sociais de violência adotadas pelos órgãos públicos da segurança na ditadura militar não teve outro parâmetro na história brasileira, podendo ser visto como mais grave do que num contexto de guerra, já que não existiam limites para as atrocidades praticadas contra os cidadãos: a "correta dose de coerção (dependia) do grau de 'inconformismo'" existente (ALVES, 1987, 45). Ou seja, a partir de então não havia parâmetro pré-determinado para o uso da violência, pois ficava a depender da disposição política demonstrada pelo cidadão indistintamente considerado inimigo do Estado.
Nesse contexto, a Segurança Pública passou por uma reestruturação ao ser colocada a serviço das Forças Armadas. Incorporou princípios e práticas fundamentados na Doutrina de Segurança Nacional, da Escola Superior de Guerra, voltados à garantia do Estado-nação em situação de guerra contra o inimigo externo. O foco primordial das novas diretrizes e metas adotadas pela política de segurança convergem para o inimigo político. Contra ele poderia ser destinado todo o poder e força, convertidos em práticas de violência, de modo que eliminasse qualquer possibilidade de ameaça de alteração da organização político-social e modelo econômico vigentes.
Desse modo, verifica-se que durante a ditadura militar, a violência e a discriminação foram naturalizadas, tornando-se princípios prioritários na prática de Segurança Pública, ao mesmo tempo em que se ampliou seu alvo, uma vez que todos os cidadãos eram vistos potencialmente como inimigos da ordem vigente.
Contudo, à medida que mais grupos da sociedade apresentavam algum sinal de resistência ao governo, novos mecanismos de controle repressivo da ordem pública foram sendo associados à Segurança Pública, sob a justificativa de Defesa da Segurança Nacional.
Por conseguinte, sob a alegação de que as informações eram indispensáveis à segurança interna e diante da necessidade de identificar e controlar sistematicamente a vida pública e privada dos opositores ao governo criou-se o Serviço Nacional de Informação - SNI. Segundo o manual da ESG, um "sistema de organização permanente de informações de segurança constitui-se num dos instrumentos essenciais para o planejamento e execução da Segurança Interna" (ALVES, 1987, p. 72).
Portanto, o referido órgão foi criado com o objetivo de "coletar e analisar informações pertinentes à Segurança Nacional, à contra-informação e à informação sobre questões subversivas internas" (BRASIL, Decreto-Lei de Criação do SNI, 1964, Apud ALVES, 1987, p. 72). Na prática, o SNI tornou-se um centro de poder com grande importância para o regime, igualando-se ao poder do próprio Executivo, com seus dirigentes usufruindo de plena autonomia. Tamanha era a sua relevância, que dois de seus chefes ocuparam o cargo de Presidente da República, Garrastazu Médici, durante o governo Costa e Silva (19967 - 1969) e João Batista Figueiredo, no governo Geisel (1974 - 1979).
Outra medida repressiva adotada em nome da segurança nacional foi a criação dos Inquéritos Policiais-Militares - IPMs, que previstos no Ato Institucional nº 1, foram instituídos através de Decreto Lei, em 27 de abril de 1964, pelo governo Castelo Branco. Os referidos instrumentos foram criados com o objetivo de investigar o possível envolvimento de funcionários civis e militares, da esfera pública federal, estadual e municipal em práticas subversivas (ALVES, 1987, p.56).
Para a aplicação do referido instrumento, foram instituídas comissões especiais de inquéritos nos três níveis de governo, ministérios, órgãos governamentais, empresas estatais, universidades federais e outras instituições públicas com o objetivo de intimidar, fiscalizar, investigar e punir os agentes públicos, objetivando eliminar o inimigo interno em todos os espaços, com vistas à segurança absoluta.
Os inquéritos tornaram-se uma fonte ilimitada de poder atribuído aos coronéis, em suas localidades de atuação. A eles competia decidir pela acusação ou não do investigado. Ao ser acusado, o funcionário público expunha-se a uma série de atrocidades, perseguições, prisões e torturas. O alcance desse e demais mecanismos de controle, assim como a Doutrina de Segurança Nacional foram aplicados e difundidos nos 22 Estados e nos 3.500 municípios existentes no país, na época. (ALVES, 1987, p. 57 e 58).
O governo Costa e Silva (8), instituiu o Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968, sob a alegação de combate ao terrorismo. Diferentemente dos demais atos institucionais, o AI - 5 teve vigência indefinida, norteou ao fortalecimento do poder repressivo do Estado acentuando-se, sensivelmente, as perseguições políticas, as ocorrências de torturas e as atrocidades praticadas pelos órgãos de Segurança Pública, em nome da defesa nacional.
Nas palavras de Daniel Aarão Reis (2002), o AI - 5 foi um golpe dentro do golpe. Sua instituição ocorreu 24 horas após a votação contrária à quebra de imunidade parlamentar do Deputado Marcio Moreira Alves, pelo Congresso Nacional. Segundo o governo militar ele deveria ser punido por instar a população a boicotar a parada militar de 7 de setembro, sugerindo, inclusive, às mulheres brasileiras demonstrarem resistência à ditadura, através de recusa de relacionamento amoroso com oficiais que concordassem com práticas repressivas ou realizassem ativamente ações violentas, em nome do Estado (ALVES, 1987, p.129).
Conforme termos constantes no seu Art. 4º, o AI-5 foi instituído no intuito de preservar a "revolução", suprimindo os limites de poder estabelecido constitucionalmente, suspendendo "os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos, cassando mandatos eletivos federais, estaduais e municipais", além de deliberar sobre o fechamento do Congresso Nacional (BRASIL, ATO INSTITUCIONAL Nº 05, 1968).
A partir de então, as práticas repressivas dos agentes de segurança foram ampliadas e recrudescidas, tendo como substrato a supressão de direitos. Dentre elas destacam-se: a suspensão da liberdade de expressão, com o estabelecimento da censura à imprensa; a suspensão do hábeas corpus, para os chamados crimes contra segurança nacional; o cerceamento ao direito à defesa, não sendo permitida a apreciação judicial dos atos que decorressem do AI - 5; a adoção de prisões arbitrárias; a transferência do julgamento dos crimes civis para a competência da justiça militar; a inviolabilidade às correspondências privadas; a preservação do acesso ao lar; a prática de tortura passa a se constituir no método primordial de investigação, sendo deixado para trás o direito à integridade física do cidadão. (CARVALHO, 2005).
A sociedade em geral foi atingida pela supressão das liberdades civis e políticas, mas membros das classes média e alta, que vinham organizadamente demonstrando insatisfação com a política autoritária dos governos, constituíram-se alvo primordial da repressão policial, ficando sinalizado o rompimento de possível acordo tácito mantido com setores dessas classes, que teriam dado sustentação política ao golpe deflagrado pelos militares.
Portanto, com a ampliação do alvo da repressão policial, ampliam-se, também, os órgãos de repressão do governo. Antes do AI - 5, o Centro de Informações da Marinha (CENIMAR) era o órgão que mais sobressaia em práticas de torturas. Posteriormente, surgem outros órgãos, dentre os quais se destaca a Operação Bandeirante (OBAN), que atuava, principalmente, no eixo São Paulo/Rio, dando origem aos Destacamentos de Operações e Informações e do Centro de Operações de Defesa Interna, conhecidos pela sigla DOI-CODI. Espraiados por diversos Estados brasileiros, os DOI-CODI foram transformados em agências especiais das Forças Armadas em práticas repressivas (FAUSTO, 2006; CARVALHO, 2005).
Os DOI-CODI, com representação nos Estados brasileiros, transformaram-se em órgãos de referência nacional simbolizados por práticas de violência policial contra o cidadão. Diante da difusão dessas práticas, como mostram Carvalho e Fausto, a repressão militar atinge seu ponto culminante, no governo do general Médici, ex-chefe do SNI, que chegou a incluir numa nova lei de segurança nacional a pena de morte por fuzilamento, cuja aplicabilidade deixara de ser admitida pelo Estado brasileiro desde o período do Império.
Ao reorientar as estratégias de enfrentamento às forças de oposição, o Presidente da República, editou o Decreto-Lei de nº 667, com o objetivo de "Reorganizar as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências" (BRASIL, DECRETO-LEI Nº 667, 1969).
Segundo o Decreto, o Ministério do Exército deveria exercer o controle total e a coordenação das Polícias Militares, através do:
a) Estado-Maior do Exército em todo o território nacional; b) Exércitos e comandos Militares de Áreas nas respectivas jurisdições; c) das Regiões Militares nos territórios regionais. Por outro lado, a Inspetoria-Geral das Polícias Militares, que passa a integrar, organicamente, o Estado-Maior do Exército incumbe-se dos estudos, da coleta e registro de dados bem como do assessoramento referente ao controle e coordenação, no nível federal, dos dispositivos do aludido Decreto-Lei (BRASIL, DECRETO-LEI Nº 667, 1969).
Conforme pode ser observado, a reestruturação da Polícia Militar, nesse contexto, foi no sentido de dar maior substância a sua configuração militar, tornando-a literalmente presa aos ditames do exército, de forma que os governos estaduais definitivamente perdessem o seu comando, simultaneamente remetendo-as, cada vez mais, para o distanciamento da sociedade. Com efeito, a identidade das Polícias Militares passa a ser definida a partir de um órgão das Forças Armadas, ao serem estruturadas de forma diferenciada das demais instituições públicas estatais de caráter civil.
Essa reestruturação que objetiva o fortalecimento do vínculo das Polícias Militares com o Exército em nível de comando, certamente vai refletir de forma direta na sua prática, sobretudo por ter obrigatoriamente de passar pelos dogmas, rituais e práticas militares, subsidiados pelos ensinamentos sistemáticos da Doutrina de Segurança Nacional. Portanto, preparadas para a guerra essas policias certamente vão apresentar problemas quando são redirecionadas para se constituírem em órgãos de garantia da segurança do cidadão.
Resta observar que a violência e o autoritarismo foram usados prioritariamente como postulados fundamentais da Segurança Pública brasileira, demonstrando que essa política historicamente manteve-se sempre em tensão com a noção de direitos.
A partir da ditadura militar, cada vez mais, a Segurança Pública tende a se orientar consoante a explicação do uso da violência, em que todos os meios devem ser vistos como justificáveis em função dos fins, como mostra Walter Benjamim (1995). Essa lógica ou fundamento, de certo, facilmente penetrou os órgãos da Segurança Pública, que já não eram afeitos à associação da noção de direitos e respeitos às leis, em sua cultura.
Segundo essa assertiva, considera-se que a Segurança Pública durante a ditadura militar traz como sustentação de forma explícita o autoritarismo político, de acordo com o regime autoritário de governo, que vislumbrava a preservação da ordem pública de forma antidemocrática. Mas, certamente, conforme os traços do autoritarismo social exposto acima, se pode afirmar que este foi e continua sendo funcional ao modelo de segurança pública adotado, sobretudo quando analisado sob a ótica do respeito e da garantia de direitos dos grupos sociais e culturalmente discriminados.
2.2. A Segurança Pública após a ditadura militar: tensão entre poder/força e direitos
A mudança do governo militar para um governo civil deu-se através de eleição indireta, em 1985. Formalmente o fim da ditadura foi prescrito a partir da nova Constituição Federal, de 1988, ao estabelecer uma nova ordem político-jurídica, fundamentada em princípios democráticos, estruturada pelo Estado Democrático de Direito.
Com o afastamento das Forças Armadas do centro do poder, seria indispensável que a Segurança Pública fosse adequada ao novo contexto. Porém, apesar da nova conjuntura social e política ser reconhecida como democrática e o Estado tornar-se juridicamente como promotor e defensor de direitos, continuou-se a conviver com a cultura antidemocrática, na Segurança Pública. Esta, por sua vez, manteve-se fortalecida pelo corpo teórico da doutrina de segurança nacional, valendo-se das estratégias de combate utilizada pelas Forças Armadas, apoiada pela idéia de poder e força. E, mais do que nunca usando como justificativa a prerrogativa do monopólio legítimo da violência.
Em outros termos significa dizer que a mesma idéia de prerrogativa de monopólio estatal da violência, sem parâmetro legal, convenientemente empregada no período da ditadura militar, manteve-se na segurança pública no Estado Democrático de Direito, chegando a mistificar a necessidade de adequação da segurança a nova ordem social e política.
Mas, diante dos inúmeros problemas apresentados pela política de Segurança Pública, no contexto democrático, verifica-se o desnudamento de algumas de suas contradições até então ignoradas. Dentre essas, destaca-se o fato de uma política pública ser caracterizada como prática social de violência e pela discriminação de direitos. É nesse sentido, que o fulcro do problema passou a ser situado nas características militares, sobretudos as herdadas da doutrina de segurança nacional, apoiada numa cultura antidemocrática e na supressão de direitos, tendo como contraponto os Direitos Humanos.
Nessa perspectiva, o alvo da discussão dos problemas da segurança focou-se, sobretudo em um de seus principais órgãos, a Polícia Militar, estruturada e teoricamente apoiada na doutrina militar, cujo fortalecimento deu-se em governos anteriores. É nesse sentido, que o ex-Comandante da Polícia Militar do Governo Brizola, Coronel Carlos Nazaré Cerqueira (2001), ao contestar as violações dos Direitos Humanos praticadas por essas policias, apresenta-se como um crítico obstinado da incorporação da cultura militar pelas polícias estaduais.
Alega Cerqueira (2001), que o processo de militarização da Segurança Pública, durante a ditadura última passada, teve como característica marcante não só a penetração do autoritarismo na polícia brasileira, através das Forças Armadas, tendo como sustentáculo a Doutrina de Segurança Nacional. Para ele, a militarização da Segurança Pública não pode ser vista apenas como a introdução de oficiais do Exército nos comandos das Policias estaduais, mas deve ser levada em consideração, sobretudo a construção de um novo quadro teórico, que tem como característica marcante a submissão aos preceitos da guerra.
Outro aspecto relevante que diz respeito à mudança no aparato policial, apontado pelo Coronel Cerqueira, além do aumento do controle da União sobre as policias estaduais e a extinção das diferentes polícias, trata da atribuição do policiamento ostensivo às policiais militares exclusivamente.
Destaca ainda o autor que os "grupos de operações especiais" da Polícia Militar, chamados de forças de elite e representados pela expressão de força/violência, surgiram no contexto da ditadura militar, ao serem formados e preparados para combater às "guerrilhas urbanas e rurais". Portanto, esses grupos mantidos no Estado Democrático de Direito, enfatizados pelos dirigentes como o que há de melhor na Segurança Pública, são avessos à ideia de direitos, enquanto têm como fulcro o combate ao criminoso, os quais são tomados como alvo de uma guerra. (CERQUEIRA, 2001, p. 46)
A Segurança Pública constituiu-se num campo favorável para a incorporação do quadro teórico da doutrina de Segurança Nacional, haja vista essa política ter se tornado um campo "dominado pelo improviso, amadorismo e bacharelismo jurídico" (CERQUEIRA, 2001, p. 46). Com base nessa afirmativa pode ser dito que a política de Segurança Pública, antes de ser associada à doutrina acima mencionada, apresentava um vazio ou precariedade em termos de conteúdo, facilitando, desse modo, a sua reorientação em conformidade com as exigências do governo militar.
O grande problema a ser enfrentado pelo Estado democrático de direito relacionado à política de Segurança Pública, decorre do fato da ideologia militar ser "descompromissada com a garantia de direitos e com limitações do poder de polícia". Pois, um "Estado forte com uma força pública forte e enérgica para manter a ordem pública nas ruas" a qualquer custo foi o ideário principal do regime militar (CERQUEIRA, 2001, p. 46), e, continuou sendo o pressuposto da Segurança Pública após a restauração da ordem democrática.
Portanto, ao passo que a Segurança Pública foi convertida pelo governo militar em um de seus principais mecanismos políticos, com poderes repressivos sem limites, passando a ser, segundo palavras de Hélio Bicudo (1994), "representada pela arma e violência", ela só poderia estabelecer uma relação de antagonismo com a maioria da sociedade.
Por fim, convém relembrar que, como medida cautelar, adotada pela ditadura militar, as instituições policiais das unidades federativas responsáveis pela garantia do direito à segurança do cidadão passaram 21 anos sob o domínio pleno das Forças Armadas, recebendo influências da cultura da caserna militar, enquanto a sua missão prioritária era combater os opositores da política autoritária do governo ditatorial.
Assim sendo, mesmo que a Segurança Pública, de forma inconteste, apresente ambivalências herdadas historicamente de tempos que antecedem ao regime militar, torna-se impossível ignorar o legado negativo deixado pelo referido regime a essa política pública.
Nesse sentido, além dos aspectos abordados acima, merecem ser enfatizados os que convergem para: 1) a reestruturação da política de segurança com viés meramente técnico e militarizado; 2) A difusão da ideologia militar, inclusive com a condecoração de bravura, em situação de práticas institucionais violentas; 3) a banalização da violência, ao considerar natural o rompimento dos parâmetros legais; 4) a ausência de práticas preventivas, considerando-se que a repressão tem mais afinidade com práticas relacionadas à segurança nacional ou em estado de guerra; 5) a não valorização dos profissionais, como se eles não fossem cidadãos de direito, ou como se estes precisassem receber tratamentos cruéis e degradantes para que não pudessem perder a sensação de estarem permanentemente num front de guerra.
Dentre tantas outras, essas se constituem em características negativas introduzidas na Segurança Pública brasileira, que, acredita-se sejam entraves ainda a serem superados no sentido da construção de uma política pública de segurança democrática.
As características primordiais de uma política pública foram afastadas da Segurança Pública, quando convertida em mero instrumento de repressão a serviço dos interesses do Estado, alcançando o imaginário social como uma política descaracterizada do entendimento de "bem coletivo" e socialmente impenetrável. Não concebida como política pública, nem por aqueles que compõem a academia universitária, a Segurança Pública não se converteu em objeto de estudos científicos, ficando exclusivamente sob o domínio das forças militares ou policiais.
Decorrente dessas questões, o viés político que se encontra imbricado na relação Estado e sociedade, mediatizada pelo conjunto das forças sociais que se confrontam na sociedade, ou nos termos de Boaventura de Sousa Santos (1999) pelo tempo espaço da cidadania, comum a toda política pública, foi renegado quanto se tratava da Segurança Pública.
Sem dúvida, o afastamento do viés político da Segurança Pública já existia antes da ideologia de segurança nacional, entretanto agravou-se sobremaneira em decorrência do recrudescimento da força e valorização da cultura militarizada.
No período da ditadura militar, o principal objetivo do governo, em correspondência ao autoritarismo político, era eliminar qualquer tendência de discussão de cunho político no âmbito das instituições públicas e da sociedade. Portanto, a Segurança Pública não só deveria manter-se como um mecanismo alheio à discussão dessa natureza, como também tinha a atribuição de garantir o distanciamento político das demais políticas públicas e da sociedade como um todo.
Longe do debate político sobre a relação entre Estado e sociedade, dissociada do campo da cidadania democrática, representada pelo exercício político dos atores sociais com vistas à conquista ou garantia de direitos, a Segurança Pública passou a ser significada, pelos órgãos executores de sua prática social - as instituições policiais, compreendidos preferencialmente de forma restrita, como braço armado do Estado. Para além da visibilidade limitada dessa política, registra-se a dificuldade da sociedade em associar a responsabilização da Segurança Pública levada a efeito ao governo, ou mesmo ao dirigente dessa política.
Na falta da percepção de cunho político estatal da segurança pública pela sociedade, via de regra, os executores que estão na ponta, comumente os policiais militares de baixa patente, tais como soldados e cabos, passam a ser responsabilizados pelo resultado negativo da política levada a efeito, como se fossem, por si sós, responsáveis por tal prática social, principalmente, quando se trata de uma ação policial geradora de violação de direitos decorrente da exploração abusiva do uso da força.
Portanto, distante do alcance da sociedade como sugerem Adorno e Peralva (1997), a Segurança Pública, focada no poder de polícia, representada na figura de seus profissionais ou através da organização policial, perdeu totalmente a associação com uma política pública estatal, ou mesmo de governo.
Assim sendo, a Segurança Pública manteve-se concebida como assunto exclusivo de polícia, limitada ao aspecto técnico, associada ao manuseio de armamento de fogo e ao uso da força física. Por outro lado, aparentemente, seus agentes de linha de frente, com autonomia plena, demonstram poder e liberdade para empregar o meio que for conveniente, para salvaguardar a ordem pública.
Diante dessa representação social, constata-se a construção recíproca de preconceitos entre a sociedade e a polícia, que dificultam a vinculação da Segurança Pública ao tema questão social, contribuindo, também, para a sua ausência no espaço da cidadania. Fica, portanto, bloqueado o alcance da Segurança Pública no campo das políticas públicas, seja através do debate político, seja mediante a discussão de cunho teórico. Enquanto isso, os seus profissionais são distanciados da categoria social servidor público, cuja atribuição social consiste na viabilização de políticas públicas.
Não há dúvida de que são vários os fatores contribuintes para a não associação do viés político a Segurança Pública. Ou em outros termos, pode-se afirmar que inúmeros fatores dificultaram a conversão da Segurança Pública em objeto de disputa política na sociedade. Aqui, merece destaque a falta de tratamento por parte da sociedade da questão da segurança como bem público. Embora a segurança represente, sob a ótica da teoria liberal, um dos primeiros direitos a serem reconhecidos na sociedade moderna, ela não chegou a ser configurada socialmente como um bem coletivo de interesse de todos os cidadãos, mesmo considerando que a garantia da segurança do cidadão tenha ficado circunscrita à responsabilidade do Estado.
Nesse sentido, vale ressaltar que o direito à segurança esteve limitado prioritariamente à dimensão do direito individual, não chegando a ser percebido como um bem público visto de forma vinculada ao bem-estar social da coletividade a ser garantido indistintamente pelo Estado. A dimensão cultural alcançada pela segurança na sociedade brasileira, ao longo da história, convergiu para que o direito a ela fosse percebido muito mais como privilégio do que como direito, circunscrito ao campo dos direitos civis.
Isto significa dizer que a difusão cultural do problema da violência e da criminalidade na sociedade brasileira não acompanhou o espaço temporal e social no âmbito da cidadania igualmente a de outros problemas, assim como o da saúde, o da educação considerados como indispensáveis ao bem-estar social de todos os cidadãos.
Por outro lado, até há pouco tempo o Estado não intervinha em práticas sociais de violência usualmente ocorridas nos espaços privados por não serem reconhecidas como um problema de domínio público.
Até recentemente, o espaço doméstico, campo social privilegiado de práticas violentas de diversos tipos, sobretudo contra mulheres, crianças e idosos, não era alcançado pelo poder estatal. Por exemplo, muito se ouvia falar, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, ou que educação dos filhos é de responsabilidade dos pais, logo eles têm o direito de disciplinar através de métodos violentos.
Os conflitos ocorridos no âmbito privado, envolvendo determinado grupo familiar, eram delegados à competência de resolução dos donatários de poder da família, segundo sua ótica. O procedimento ético considerado correto era o poder público não se aproximar de problemas considerados de cunho meramente privado.
Acrescente-se, ainda, o fato da questão da segurança ter um caráter multifacetado, cheio de ambigüidades, algumas vezes tensionada pelo tipo de relação estabelecida entre vítima e agressor, que podem ser ligados, inclusive, por laços familiares, afetivos. Outro aspecto significativo, conforme sinalizado no capítulo I, diz respeito ao fato da segurança envolver elementos de fundo moral, repugnados socialmente, que levam ao distanciamento da problemática e dos atores envolvidos.
A falta de interesse social e político, em relação à Segurança Pública, poderá vir a ser atestada diante da ausência da temática na sociedade, no decorrer do processo de transição para o regime democrático e mais precisamente no momento da elaboração da Constituição Federal, de 1988. No referido período, parlamentares, mesmo os de esquerda que se constituíram em vítimas das forças policiais durante a ditadura militar, não chegaram a mobilizar forças sociais para discutir a Segurança Pública ou se esqueceram dessa política, que tem relevante papel no processo democrático. Assim, não chegaram a ser revistos os eixos condutores da Segurança Pública, como também não foram processadas mudanças cabíveis de cunho democratizante em seus órgãos.
Afirma Luiz Eduardo Soares (2006), que essa política foi esquecida pelos que pensaram teórica e politicamente o Brasil e se dedicaram às suas mudanças, durante muitos anos, parecendo existir um pacto no sentido de ignorar a relevância social da Segurança Pública, apesar desta se constituir a face mais tangível do Estado para a grande maioria da população.
Outro aspecto a ser enfatizado com relação à Segurança Pública tomada como uma política pública estatal, sobretudo quando vinculada ao Estado de Direito, diz respeito a sua associação à violação de direitos e/ou negação de direitos.
Ao longo da história, a violência policial foi usada, ou pelo menos tolerada pelos governos, como instrumento para imposição da ordem social e política e também adotada na prática de repressão ao crime. Só recentemente, no decorrer da ditadura militar, quando a classe média foi incorporada como alvo da violência policial é que veio a ser vista como um problema a ser superado pelo Estado. A partir de então, essa prática social passa a ser socialmente reconhecida como violação de direitos ou mesmo como prática criminosa, quando membros da classe média passaram a ser vítimas da violência policial.
Para Luiz Eduardo Soares (2007, p.122), a violação de direitos deve ser caracterizada de duas formas: uma trata da omissão do Estado, diante da responsabilidade que lhe fora atribuída, de intervir nas desigualdades sociais, através de políticas públicas, objetivando, inclusive, a diminuição da vulnerabilidade das vítimas de violência, (gerada, muitas vezes, pela falta de acesso aos direitos da cidadania e ao desenvolvimento econômico); ao Estado imputa-se também responsabilidade considerada mais danosa, com relação à violação de direitos, quando seus agentes e suas instituições promovem, de forma direta, ações criminosas, seja através das polícias, seja através dos sistemas prisionais e socioeducativos.
Para o sociólogo, professor da USP, Paulo Mesquita Neto (1999), existem quatro formas de explicação para a violência policial, tomada aqui como violação de direitos, decorrente do uso abusivo da força: jurídica, sociológica, jornalística e profissional.
A visão jurídica considera violência policial o uso ilegal da força física por parte de policiais contra pessoas. Ou seja, o uso da força sem observância aos parâmetros legais.
O autor considera restrita essa visão por não contemplar usos da força em situações consideradas desnecessárias ou excessivas. Como exemplo cita situações de pequenos conflitos ou em abordagens que não apresentam situações de risco para o profissional, mas estes já chegam agredindo fisicamente o cidadão, balizado pelo pressuposto que pode fazer uso legal da força. Para Mesquita Neto o problema maior é que de "acordo com essa concepção, qualquer uso legal da força física por policiais contra outras pessoas - ainda que ilegítimo, desnecessário ou excessivo -, é caracterizado como ato de força e não como um ato de violência" (MESQUITA NETO, 1999, p.133).
A concepção sociológica ou política explica o uso da força com base na legitimidade, ou seja, desde que haja prévia autorização ou acordo tácito por parte da sociedade. Essa visão preocupa-se em "distinguir força e violência com base não apenas na legalidade, mas também e principalmente na legitimidade do uso da força física" (MESQUITA NETO, 1999, p.133). Assim são casos de violência policial os decorrentes de uso ilegal da força, como também os que usam ilegitimamente a força física. Como exemplos citam-se casos em que a polícia troca tiros em via pública, em perseguição ao criminoso, provocando a morte de terceiros.
Uma terceira concepção de violência policial, o autor supracitado denomina de jornalística, preferencialmente elaborada pelos meios de comunicação social. A visão jornalística, a qual comumente interfere na opinião pública "considera atos de violência policial não apenas os usos ilegais e os ilegítimos, mas também e principalmente os usos irregulares, anormais, escandalosos ou chocantes da força física por policiais, contra outras pessoas" (MESQUITA NETO, 1999, p. 134).
Neste caso, mesmo sendo legal e legítimo o uso da força física por policiais constitui-se em objeto de reprovação por contrariar padrões de comportamentos sociais vistos como regulares e normais pela opinião pública e pelos profissionais da mídia. Como exemplo, neste caso, pode mencionar-se a exposição de armamento pesado em via pública, por ocasião de rondas policiais ou abordagens rotineiras. Mesmo considerado legal e reconhecido pelas convenções sociais o uso de armas por policiais, o tipo de armamento pode ser visto como anormal e ser reprovado pela sociedade.
A concepção profissional de violência policial diferencia-se das demais, por estar associada a
(...) critérios de natureza profissional, vinculados diretamente à experiência profissional dos policiais. Conseqüentemente, esta concepção sugere que a violência policial é um comportamento anti-profissional, não-profissional ou pouco profissional, antes de sugerir que a violência policial é um comportamento ilegal, ilegítimo ou irregular por parte de policiais envolvidos em atos de violência. Esta concepção sugere a necessidade da profissionalização da polícia e da melhoria da formação e aperfeiçoamento profissional dos policiais antes de sugerir a necessidade de uma punição dos policiais envolvidos em atos de violência como forma de controlar a violência policial (MESQUITA NETO, 1999, p. 137).
A quarta concepção apresentada, segundo a análise de Mesquita Neto (1999), tem como característica não produzir automaticamente uma reação negativa, permitindo uma relação de cooperação e não de antagonismo, entre polícia e sociedade, podendo, inclusive servir de justificativa para a questão da compreensão e do controle da violência policial.
Considerando que, a partir de 1988, no Brasil, a política de segurança pública tem como eixo estruturante o Estado Democrático de Direito, apoiado, portanto, no respeito e na garantia de direitos dos cidadãos, parte-se do pressuposto que a violência policial em qualquer situação não pode ser vista como natural, cabendo a preocupação da sociedade e do Estado, independente da explicação teórica que venha a ser dada.
Desse modo, cabe dizer que quando se fala em respeito aos direitos tendo como referência à prática social dos profissionais em segurança pública inicialmente associa-se a explicação jurídica dada por Mesquita Neto. Todavia, entende-se que não pode se admitir que práticas institucionais, vinculadas à determinada política pública se mantenha, sobretudo quando a política chega a ser socialmente reconhecida como ilegítima. Ademais, compreende-se que uma prática social da complexidade apresentada pela segurança pública jamais poderá se desvencilhar de teorias e técnicas que qualifiquem racionalmente essa prática. Além disso, defende-se que não deve se esperar que haja um termômetro ou uma fita métrica capaz de medir a intensidade de violência praticada por um funcionário público no exercício de sua prática institucional.
Por outro lado, vale salientar que tomando por referência essas quatro formas expostas de caracterizar a violência policial, não têm sido poucos, na nossa história, os registros de casos de violação de direitos praticados em nome de um estado forte, visto que no Brasil sempre houve a prevalência, por parte da política de segurança pública, da valorização do uso da força física/repressão, balizada pelo monopólio estatal da violência.
Para ilustrar o quadro de violência caracterizado como violação de direitos, conforme entendimento de Luiz Eduardo Soares, recorre-se a José Murilo de Carvalho quando faz uma incursão na história de repressão e violência do Estado brasileiro. Segundo ele, na Primeira República, os prisioneiros das revoltas Federalistas tiveram suas cabeças decapitadas; Canudos foi destruída e os que se negavam a dar vivas à República foram degolados; os rebeldes do Rio de Janeiro e Santa Catarina, durante a revolta da Armada foram fuzilados; aos soldados indomáveis aplicou-se surra de espada; aos marinheiros revoltosos chibatadas e outros asfixiados na solitária. No Estado Novo, institui-se a figura socialmente conhecida como preso político, ao qual se destinou a Delegacia de Ordem Política e Social, onde eram torturados, espancados, queimados com cigarros, alfinetados nas unhas, sendo retirados pedaços de carne do corpo humano com maçarico e até assassinados. Na ditadura militar, a violência policial usada em nome da segurança do Estado utilizou prisões ilegais, seqüestros, bofetão, espancamento, "pau-dearara", "telefone", surra de toalha molhada, asfixiamento, choque elétrico, estupro, cassetete no ânus e na vagina, assassinatos, desaparecimentos, além de outras formas usadas pelos profissionais da Segurança Pública, a serviço do Estado forte/violento (CARVALHO, 1998, p. 327 - 328).
No período do regime autoritário, de 1964 a 1985, quando a Segurança Pública se encontrava sob a responsabilidade do governo central, admitia-se ou tolerava-se a prática de violência pelos policiais, como forma de conter os ânimos e a insatisfação dos opositores ao regime. Mas, a partir 1985, com a instauração do processo de transição para a democracia, o apoio do Governo Federal ao uso da violência com esse fim deixou de existir.
Após 1988, em pleno Estado Democrático de Direito, constata-se que a violência ilegal e ilegítima praticada pela polícia alcança o cenário social de forma expressiva, mesmo sendo reconhecida socialmente como violação de direitos. Desse modo, nos anos de 1990 foram levadas, pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, à visibilidade pública, através da mídia, denúncias de tortura, maus tratos, prisões ilegais, execução sumária e massacres em diversos Estados brasileiros. Nesse período, a violência policial tornou-se mais visível face às inúmeras mortes coletivas e em virtude do surgimento de novas vítimas da violência estatal. Agora, são os cidadãos comuns e não mais os rebelados políticos as vitimas preferenciais da violência policial.
Dentre outros casos de violência policial, de conhecimento público, praticados nos anos de 1990, destacam-se: em 1992, 21 assassinatos em Vigário Geral, no Rio de Janeiro; 111 mortes de detentos, em São Paulo, em decorrência de estratégia adotada pela PM, para conter conflitos na Casa de Detenção do Carandiru. Em 1995, na Cidade de Corumbiara, Rondônia, 16 trabalhadores rurais foram mortos por policiais militares e jagunços; no ano seguinte, no Rio de Janeiro, sete crianças que dormiam, em frente à igreja da Candelária foram mortas pela PM; ainda em 1996, no Pará, 19 trabalhadores rurais, se tornaram vítimas fatais da ação de policiais militares. No mesmo ano, a tropa de choque da Polícia Militar do Estado da Paraíba, ao intervir numa situação de conflito no Presídio do Roger, em João Pessoa, assassinou oito detentos.
Para explicar a violência policial ilegal e ilegítima ou a violação de direitos, no contexto democrático, os policiais não se inspiram mais na figura do inimigo político do Estado - o comunista. Incorpora-se o mito de que, ao infringir a lei, cabe ao cidadão a perda de tratamento humano. Segundo explica VIDAL (2003) elimina-se qualquer possibilidade de pertencimento do cidadão à humanidade (9), de modo que as práticas de abuso e violência policial não sejam configuradas como violação de direitos, ou mesmo práticas criminosas.
Segundo o estudioso, esse mito é construído a partir da associação entre obrigação moral e direitos e tem correspondência à negação dos Direitos Humanos, uma vez que a garantia do benefício desses direitos termina sendo defendida a partir da qualidade do ser humano. Isto é, defende-se que o outro seja tratado como ser humano, baseando-se num conceito do que deveria ser a humanidade. Consoante essa justificativa, a tendência é assegurar que os Direitos Humanos só devem ser garantidos ao cidadão que se apresentar como humano e que seja caracterizado como cidadão de bem.
De fato, o que prevalece é o princípio da moralidade. Não corresponder moralmente a expectativas morais de outros cidadãos implica o não-pertencimento ao conjunto da humanidade, estando, portanto, eliminado do campo da garantia e respeitos aos direitos.
A cultuação desse mito difunde-se pelos meios de comunicação, encontrando ressonância na sociedade. Recentemente, isso tem sido constatado em relação às noticias veiculadas pela mídia referentes às execuções sumárias, sobretudo de jovens, via de regra, justificadas imediatamente pelo envolvimento das vítimas no tráfico de drogas, passando a idéia de que se esgotou ali a responsabilidade do Estado diante do fato ou, em outras palavras, com a vida daquele cidadão.
A Segurança Pública respalda-se no discurso do "bom cidadão". Esse, segundo Vidal (2003), é representado pelo indivíduo que respeita as normas estruturantes da sociedade, ou seja, enquadra-se na ordem social imposta sem queixas, sem reivindicações de mudanças, mesmo que as normas não sejam igualmente efetivadas. A preocupação primordial parece ser negar a relação entre Estado e cidadão, assim como o afastamento da noção de participação política, como indispensável no processo de garantia de direitos.
Em conformidade com essas assertivas, a representação social (10) construída acerca dos Direitos Humanos junto aos profissionais da Segurança Pública, principalmente em relação ao campo da prática, revela uma face invertida dos direitos, chegando esses profissionais a reconhecerem os militantes dos Direitos Humanos como "defensores de bandidos", ou mesmo como entrave à garantia de segurança. Essa representação velada de rejeição a esses direitos contribui para que esses profissionais alimentem uma relação de antagonismo entre Segurança Pública e Direitos Humanos.
Certamente, os profissionais da Segurança Pública são personagens da história brasileira que trazem a marca de sua estrutura, associada à cultura autoritária e excludente, com uma linguagem ambivalente, simultaneamente igualitária e hierarquizada, democrática e autoritária. Essa linguagem, essencialmente arraigada, impede que incorporem ao campo de suas práticas profissionais a linguagem balizada nos direitos e a legalidade republicana, conforme a determinação constitucional (SOARES, 2006).
Apesar da existência de instrumentos para apurar os crimes praticados por esses agentes públicos, tem sido insignificante o quantitativo de casos submetidos à justiça para julgamento e menos ainda os que chegam à punição. Contudo, acredita-se que a punição por si só não resolva o problema, pois se faz indispensável que se redirecione a política de Segurança Pública, de modo que deixe de ser vista meramente como instrumento de força, mediatizada pela violência sem limites.
Tolerar essa supremacia contribui para deixar um vago em relação aos Direitos Humanos, como também caracteriza que o Estado ou mesmo a sociedade concebe a prática de violência como único meio ou meio natural de se fazer Segurança Pública.
A cultura democratizante que vem se difundindo na sociedade, segundo Mesquita Neto (1999), tem criado condições favoráveis para que se reveja a exploração abusiva do monopólio da violência, principalmente quando se trata de rever práticas sociais que culminam para a violação estatal de direitos. Mas, consoante o mesmo autor essa revisão não se dará de forma automática, para tanto se faz necessária a participação efetiva da sociedade civil, a reformulação da política de segurança e o fortalecimento e criação de novos mecanismos de controle social da prática policial.
2.3. A garantia do direito à segurança: desafio ao Estado Democrático de Direito
Convém reafirmar que os temas democracia e Direitos Humanos tiveram papel preponderante no processo de luta deflagrado pela sociedade contra o governo militar. Esses temas, ao alcançarem as características de valor universal, tiveram como grande feito conciliar pensamentos e credos adversos, chegando a contribuir para que a sociedade brasileira se fortalecesse politicamente, como nunca visto antes.
O poder de resistência e luta contra a ditadura militar, desvelado por vários setores da sociedade dentre os quais: Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, Associação Brasileira de Imprensa-ABI, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, as Comissões de Justiça e Paz, dentre outros, contribuíram para que os movimentos populares também estivessem presentes no espaço público, em processo de luta, durante a elaboração da nova Carta Magna (ALVES, 1987).
Nesse contexto, constata-se o fortalecimento da sociedade brasileira com as organizações sociais influindo no processo democrático, com a reconquista de direitos suprimidos, e obtendo novos, marcando presença sobre a formatação do Estado, nos moldes da sociedade civil gramsciana. Não há como ignorar que essa presença marcante dos chamados novos movimentos socais, colocando em cena novos personagens sociais, historicamente excluídos da vida política do país, possibilitou a inclusão de inúmeras aspirações populares na nova Constituição, que foi batizada pelo constituinte Ulisses Guimarães de Constituição cidadã.
Como mostra o Professor Marco Mondaini (2007), a referida Constituição representa para o Brasil o início do que Bobbio denomina de a Era dos Direitos, principalmente, em virtude de seu texto, que de forma inédita, estabelece "garantias tanto no plano individual quanto no plano coletivo", perpassando os direitos civis, políticos e sociais, além da conquista da universalização dos Direitos Humanos por todos os cidadãos, indistintamente.
Com relação aos direitos políticos representados pela democracia representativa, merece destaque a retomada do processo eleitoral, com a conquista do voto universal, podendo, a partir de então, todo brasileiro maior de 16 anos votar, se assim desejar e a partir de 18 anos votar e ser votado, sem restrições de escolaridade, sexo, condição socioeconômica. Outro ganho político, além da democracia representativa, trata-se da incorporação de "vários outros mecanismos de participação direta nas decisões políticas, do país, tais como: plebiscito popular, orçamento participativo, referendo popular, conselhos gestores, entre outros". Muitas dessas conquistas representam a regulamentação de idéias defendidas pelos movimentos sociais (PEDRINI et al., 2007, p.180).
Os mecanismos de controle social (11), os conselhos de participação social, assim como outros instrumentos representam uma conquista dos movimentos sociais que contraria princípios do liberalismo, pois como adverte Carlos Simões (2007) a política liberal limita a atuação da sociedade civil à sua civilidade, sem interferência, através de controle social, no Estado liberal.
Apesar de existirem problemas no sistema político, seja com relação à fragilidade dos partidos, seja no que tange à crise de representatividade política, o fato é que nos últimos vinte anos, o país avançou no que concerne a escolha de governantes e parlamentares. Ficou, portanto, para trás a idéia de cidadania política de natureza ativa e passiva, nos moldes kantianos, presa à noção de voto censitário, ou seja, de acordo com o patrimônio do cidadão. Todos os brasileiros, independentemente de vinculação com o mercado e condições econômicas, passaram a exercitar o direito de votar, inclusive os analfabetos.
Quanto ao exercício democrático direto, caracterizado como de cidadania que incide no processo de tomada de decisão e controle social na gestão pública, as experiências mais avançadas têm se dado com relação ao orçamento participativo (12) em alguns municípios brasileiros. Como mostra Santos (2002a, p. 66), essa forma de participação direta apresenta duas características fundamentais: "distribuição justa de bens públicos e negociação democrática de acesso a bens coletivos entre os próprios atores sociais".
Com relação aos direitos sociais, a nova carta Constitucional estendeu-os a todos os cidadãos independentemente da vinculação destes ao mercado de trabalho. Até mesmo os cidadãos considerados incapacitados para o mercado de trabalho passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos sociais. Quebrou-se, assim, a idéia de cidadania regulada que, segundo Wanderley Guilherme dos Santos (1979), condicionava o acesso aos direitos sociais à vinculação do cidadão ao mundo do trabalho formal.
Os direitos civis foram formalmente reconquistados. Inspirando-se em países capitalistas desenvolvidos o Estado Democrático de Direito brasileiro não deveria permitir que as garantias individuais, estabelecidas em lei fossem violadas nem pelo Estado, nem pelo outro cidadão. Paradoxalmente, a preservação dos direitos civis da grande maioria da população brasileira tem se constituído num grande desafio ao Estado brasileiro, sobretudo quando estão relacionados à Segurança Pública. Um exemplo claro, nesse caso, consiste no direito à inviolabilidade do lar, freqüentemente violado pelos profissionais da Segurança Pública quando se trata da moradia do cidadão em situação de pobreza, assim como a garantia da integridade física, ou mesmo o direito à vida, negligenciado pelo Estado, sobretudo aos segmentos sociais de baixo poder aquisitivo.
Como mostra Marco Mondaini (2007), a falta de garantia do direito à segurança atinge hoje todas as classes sociais, significando dizer que o Estado não tem conseguido resolver o problema de segurança, nem mesmo do segmento social que sempre privilegiou.
Contudo, a falta de acesso aos direitos civis pelos pobres, assim como o não acesso ao direito humano à segurança, aparece associado à negação de outros direitos, quando não há socialização devida do poder político e, conseqüentemente, as suas necessidades não são atendidas pelo Estado através da efetivação de direitos sociais. Nesse bojo, acentua-se a vulnerabilidade deste grupo social, sobretudo em relação ao crime organizado, ao tráfico de drogas e de armas, assim como das práticas arbitrárias dos servidores públicos da área de segurança.
Vale registrar, que segundo preceituado na Declaração e Programa de Ação, da Conferência de Direitos Humanos, de Viena (1993), o alcance de um direito pelo cidadão fica condicionado a garantia de outro. Em outros termos, pode-se afirmar que a garantia dos direitos civis encontra-se condicionada ao alcance dos direitos sociais e depende cada vez mais do exercício do direito político. Essa assertiva remete ao entendimento de Arendt, ao afirmar que o direito político se constitui no fulcro dos demais direitos.
No Brasil, persiste o paradoxo entre a formalidade de direitos e a sua efetivação. Nesse sentido, cabe afirmar que o reconhecimento formal dos Direitos Humanos pelo Estado, ou a era dos direitos, não representou a conquista plena da cidadania, mas apenas o reconhecimento formal de direitos.
Nesse sentido, recorre-se a Dagnino (2004) ao advertir que não se deve restringir a cidadania à formalidade de direitos, o que representaria um grande engodo para o exercício da cidadania democrática, além de subestimar a sociedade civil como arena política. Conforme alerta Dagnino (2004), deve-se atentar que a cultura autoritária de exclusão interpenetra as práticas sociais e as relações sociais, colocando-se como um dos grandes entraves ao fomento do exercício democrático, na sociedade brasileira.
Por outro lado, não deve ser ignorado o autoritarismo social, enraizado na sociedade brasileira, que tende a contribuir para a reversão da noção de garantia de direitos em garantia de privilégios, segundo sugere Chauí (2007). Ademais, é importante considerar que o avanço do processo democrático das políticas públicas no Brasil dependerá do avanço da democratização da sociedade.
Em outros termos, para que se amplie a democracia no contexto brasileiro, substanciada pela efetivação de direitos, faz-se necessário que a cultura democrática seja incorporada às relações sociais e às práticas sociais cotidianas, sejam estas de caráter individual ou coletivo. Para tanto, requer que a cultura democrática adentre às instituições, através dos seus servidores públicos, considerados principais protagonistas das políticas públicas.
Assim, assinala-se que a democracia no Brasil tem características particulares, devendo ser tomada como um processo a ser exercitado permanentemente, com vistas à superação de velhos e novos entraves à conquista de direitos, sobretudo quando se trata da garantia de direitos a segmentos sociais historicamente discriminados e tratados de forma desigual.
Ainda como sugere O'Donnel (1988), para que se avance no sentido da democracia no Brasil, ou nos termos do referido autor, para que se consolide a segunda fase democrática, sobretudo caracterizada pela garantia da efetivação dos Direitos Humanos de forma integral, deve ser vencido um grande entrave à democratização, que consiste na falta de atores sociais e institucionais efetivamente democráticos.
Implica dizer que não basta o consenso em termos do discurso democrático, ou que a democracia alcance o status de valor universal, para que se chegue à democratização de uma política pública. Para tanto, faz-se necessário que seus protagonistas incorporem a cultura democrática e avancem no sentido da prática apoiada nessa nova cultura.
Garantir a associação da Segurança Pública aos princípios democráticos e à promoção dos Direitos Humanos tem sido um dos principais desafios ao Estado brasileiro, uma vez que preferencialmente tem se levado a efeito, nos estados membros da federação, a velha política de segurança regida por princípios antidemocráticos. A reclamação à sua incongruência ao Estado Democrático de Direito, sobretudo em face das arbitrariedades praticadas por seus profissionais, leva, por vezes, a recorrer-se ao discurso do monopólio da violência, principalmente quando se tenta justificar os excessos decorrentes da ideologia militar.
Mas, como uma política pública hegemonicamente sustentada numa cultura antidemocrática, fundamentada exclusivamente na noção de monopólio estatal da violência, associada à ideologia militar de combate ao inimigo, pode se sustentar num Estado que se apresenta como democrático de direito?
Promulgada a Constituição de 1988, esperava-se que a Segurança Pública fosse submetida a um processo de mudança, objetivando a sua compatibilização efetiva com a ordem democrática, deixando de ser mero instrumento de violência estatal, mediatizado pelo combate ao inimigo, que tem conduzido à práticas de violação de direitos.
Todavia, mesmo com a difusão da cultura democrática na sociedade brasileira e o advento do novo modelo de Estado, não foi traçado um processo de mudanças para a Segurança Pública com vistas à alteração do seu objeto de intervenção, bem como à universalização efetiva do direito à segurança. Não houve a preocupação em alterar a forma de sua atuação, visando à interdependência com a ordem democrática, além de não ter sido revista a fim de corresponder à crescente demanda emergente relacionada à questão de Segurança Pública como bem coletivo.
Nota-se que o sujeito de direito dessa política continuou oscilando entre o Estado e os cidadãos selecionados com base em critérios cultural e socioeconômico, balizando-se em leituras conservadoras e preconceituosas, em contraposição aos princípios norteadores de uma política com dimensão coletiva e democrática. Já, a segurança do Estado tem sido mantida em sobreposição à segurança do cidadão, sobretudo quando segmentos da sociedade civil se dispõem a reivindicar a efetivação dos seus direitos de forma coletiva, junto aos poderes instituídos.
Registre-se a falta de interesse dos governos, gestores representativos do poder democrático, que têm o papel precípuo de defender e respeitar direitos, em traçar uma nova política no que diz respeito à gestão de conflitos, que possibilite de forma concreta um canal de diálogo entre sociedade e Estado (governo), quando o cidadão coletivamente apresenta suas necessidades, reivindicando novos direitos ou cobrando o cumprimentos dos existentes. Nesses casos, preferencialmente, com posturas autoritárias os governos fazem uso da Segurança Pública, confundida com garantia de ordem pública, segundo Bova (1999) e General Cardoso (Apud BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, Comissão Especial de Segurança Pública, 1997).
Enfim, constata-se que a velha política de Segurança Pública apresenta indefinição quanto ao seu objeto de intervenção, assim como em relação aos seus objetivos, que deveriam estar em consonância ao Estado brasileiro constitucionalmente estabelecido, no sentido da garantia de direitos e não da ordem pública. Cabe pontuar que essa indefinição focaliza-se a partir da confusão feita entre o papel de uma política de segurança com viés democrático e uma Segurança Pública idealizada para o Estado autoritário, regido pelas Forças Armadas.
Essa afirmativa, que parece óbvia, remete ao fulcro da questão da segurança dos cidadãos, no contexto democrático, tendo como referência a confusão feita entre Segurança Pública e preservação da ordem pública interna antidemocrática, associada, ainda, à noção de segurança externa, ambas norteadas por conteúdos teóricos de cunho militar, segundo Cerqueira (2001).
O resultado dessa confusão é que a política de Segurança Pública tende a distanciar-se do que seria o seu foco de intervenção constituído pela violência e criminalidade, considerando-se, sobretudo, a complexidade e as múltiplas facetas que a envolvem, na atual sociedade brasileira.
Desse modo, tornam-se visíveis a ineficiência e a ineficácia dessa política que não consegue responder a crescente demanda a ela destinada. Portanto, o problema da Segurança Pública não se restringe apenas aos meios utilizados, mas também a sua incapacidade de possibilitar o acesso do direito à segurança do cidadão, diante da complexidade que a questão da segurança pública enfrenta, nos dias atuais.
A despeito dessa afirmativa merece ser justificada a leitura diferenciada das categorias violência e criminalidade. Embora essas temáticas não tenham sido escolhidas como eixo condutor deste estudo, tornou-se impossível dissociá-las, nessa análise, uma vez que ambas se encontram entrelaçadas ao campo empírico e teórico da política de Segurança Pública.
Apesar de usadas, por vezes, como interligadas ou como sinônimas, as duas categorias são entendidas aqui em sentidos distintos. No que se refere à conceituação de violência, recorreu-se à socióloga Alba Zaluar (1999, p. 28), por apresentar uma leitura ampla:
Violência vem do latim violentia que remete a vis (força, vigor, emprego de força física ou os recursos do corpo para exercer sua força vital). Essa força torna-se violenta quando ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos e regras que ordenam relações, adquirindo carga negativa ou maléfica. É, portanto, a percepção do limite e da perturbação (e do sofrimento que provoca) que vai caracterizar o ato como violento, percepção essa que varia cultural e historicamente.
Já a compreensão de criminalidade está associada à cultura jurídica, segundo orientação do Código Penal e de outras normas jurídicas socialmente construídas. Segundo a lógica criminal para que haja a intervenção da polícia, faz-se necessário a prévia tipificação de determinado ato violento como crime.
A ilustração do processo de tipificação de uma prática de violência em crime pode ser vista a partir da Lei Nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, denominada de Maria da Penha, criada recentemente para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência (BRASIL, Lei Nº 11.340, de 07 de agosto de 2006). Como já mencionado, até há pouco tempo a violência contra a mulher não era reconhecida como um problema social de domínio público, ou seja, no âmbito da Segurança Pública, não era discutido o direito de segurança da mulher.
Como nos alerta Sergio Adorno (2003, p. 104-105) "nem todo fenômeno socialmente percebido como violento é categorizado como crime". Do mesmo modo, há modalidades de violência que, embora codificadas como crime, não têm penetrado a cultura política dos órgãos de Segurança Pública, sendo banalizadas e tidas como práticas naturais. Nesse caso, como exemplos, citem-se as práticas de torturas, tipificadas como crime, mas que costumeiramente não são indiciadas como crime, ficando sem responsabilizar os seus praticantes.
Importa sinalizar que o termo violência apresenta-se de forma mais abrangente, por relacionar-se às práticas sociais ou institucionais tipificadas como crime ou não. Talvez, sua amplitude justifique o fato de ser mais comum o seu uso por estudiosos da área, sobretudo os que discutem, sociologicamente, o tema Segurança Pública.
A representação social da violência para efeito da política de segurança brasileira, preferencialmente adotada, é a que predomina nos órgãos policiais, configurada como crime. Essa restrição vai ter rebatimentos no campo da intervenção, ao deixar de fora as demandas relacionadas a situações de conflitos que requerem ações preventivas da violência. Isso significa dizer que existe um vasto campo de intervenção relacionado à Segurança Pública em aberto, considerando-se que a necessidade de prevenção da violência de amplos segmentos da sociedade não é incorporada pelo Estado.
Enquanto a Segurança Pública não amplia seu campo teórico, permanecendo com uma intervenção limitada, objetivos distorcidos, presa a contextos passados, paradoxalmente constata-se o crescimento da violência e da criminalidade, na sociedade brasileira.
Para Nancy Cardia et al (2003), o crescimento da violência não é uma singularidade da sociedade brasileira, já que outros países da América Latina também se deparam com esse crescimento. Contudo, advertem esses autores que o crescimento da violência nas áreas urbanas brasileiras não pode ser compreendido e prevenido, se não for superado o fosso existente em relação à garantia de direitos econômicos e sociais, para grande maioria da população. Afirmam, ainda, que a violência, no Brasil, tem crescido desde o início dos anos 1960. Portanto, não deve ser visto como consequência da transição do regime autoritário para o democrático, devendo, todavia, ser entendido como persistência de problemas nunca resolvidos que vão se acumulando e contribuindo para agravar o quadro da violência, sobretudo nos contextos urbanos.
Um problema a ser destacado, também se refere à falta de sistematização de informação confiável relacionada à violência criminal. Ainda hoje os estudos nessa área são subsidiados por órgãos fora do sistema de segurança. Usualmente, os dados sobre a violência se referem aos homicídios, registrados no Banco de Dados do Ministério da Saúde.
Conforme a advertência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Ministério do Planejamento, apesar da preocupação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, principalmente, a partir do Sistema Único de Segurança Pública - SUSP, em criar o Sistema Nacional de Informação em Segurança Pública, pouco se fez. As estatísticas relacionadas à criminalidade têm sido prejudicadas por vários fatores, dentre os quais: taxas de notificação dos órgãos policiais de uma mesma localidade apresentarem diferenças; classificação de delitos diferenciada nas unidades federativas; crescente falta de notificação por parte da vítima, em decorrência do medo e descrença na ação da polícia (IPEA, 2003).
A falta de dados contribui para a indefinição da demarcação do período de crescimento da violência criminal, no país, embora alguns autores demarquem o crescimento dessa violência a partir dos anos de 1970, a violência criminal só aparece, estatisticamente, a partir dos anos 1980.
Assim sendo, com base nos dados (13) do Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM, do Ministério da Saúde, a professora da Faculdade de Educação da USP, hoje Professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Toulouse II - França, Angelina Peralva (2000) demonstra que a taxa de homicídios no Brasil aumentou consideravelmente a partir dos anos 1980, atingindo patamares até então desconhecidos. Se em 1980 a taxa de homicídio era de 11,68 por 100 mil habitantes, em 1990 atingiu 22,20 por 100 mil habitantes, e em 1997 alcançou 25, 37 por 100 mil habitantes.
O retrato quantificado do agravamento da violência e da criminalidade não se exaure aí. Veja, a seguir, gráfico extraído do Mapa da Violência (14), com os dados de homicídios ocorridos durante 1996 a 2006.
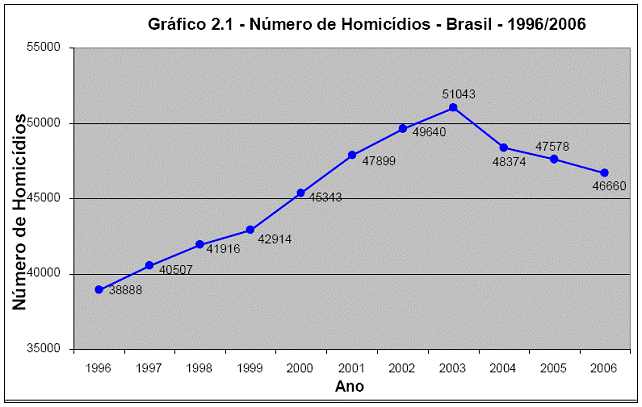
Fonte: Microdados SIM//SVS/MS
Conforme se vê acima, em 1996 houve um total de 38.888 homicídios, em 2003 chegou ao montante de 51.043 homicídios, demonstrando um crescimento contínuo de mortes. De 2003 a 2006, houve uma redução contínua, atingindo no último ano o total de 46.660 (15) homicídios. O mapa sinaliza a gravidade do problema, quando os dados se referem a homicídios por faixa etária. Veja, a seguir, tabela referente ao mesmo período, comparando homicídios de jovens e não jovens.

Fonte: Microdados SIM//SVS/MS
Segundo o gráfico acima, enquanto em 1997 registraram-se 102 homicídios de não jovens por 1000 mil habitantes, os jovens de 15 a 24 anos alcançaram no mesmo ano o número de 108 homicídios, por 100 mil habitantes. Em 2003, os não jovens chegaram a 122 mortes, por 100 mil habitantes, enquanto os homicídios entre jovens alcançaram o total de 150 homicídios. Mesmo havendo um decréscimo de 2003 a 2006, o número de homicídio do grupo dos jovens continuou superior aos não jovens durante os onze anos analisados, e, apesar da redução dos dados, o ano de 2006 continua a superar o ano de 1996.
O Mapa da Violência mostra, ainda, que 10% (556) do total dos municípios do país apresentam as maiores taxas de homicídio na população total, concentrando 73,3% do total de homicídios ocorridos, em 2006, totalizando 46.660 homicídios. Com exceção do Distrito Federal, todos os estados brasileiros têm ao menos um município compondo esses 10%. Esses municípios, comumente, são de grande ou médio porte.
Com relação ao estado da Paraíba, quatro de seus municípios foram incluídos no mapa, dentre os 200 com maiores índices de homicídios do país. Os dados registrados acerca desses municípios (João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e Bayeux), relativos ao período 2004-2006, ao serem computados conjuntamente demonstram ter havido crescimento no total de homicídios.
Embora os dados apresentem decréscimo de homicídios no período 2003 a 2006, no Brasil, o problema da violência e da criminalidade vem se expandindo no territorial nacional, difundindo-se em centros urbanos de médio e pequeno porte, ceifando milhares de vidas humanas, sobretudo de jovens.
Ante a complexidade alcançada pelo problema e as múltiplas facetas que envolvem a questão da violência e da criminalidade, nas sociedades complexas, a exemplo da brasileira, tornou-se difícil fechar um conjunto de fatores considerados responsáveis pelo crescimento desse grave problema social. No entanto, concorda-se com a Professora Peralva (2000, p. 73 e 74) ao afirmar que para explicar essa questão devem ser considerados vários fatores, dentre os quais:
a) a continuidade do autoritarismo, b) a desorganização das instituições responsáveis pela Segurança Pública, c) o crescimento das desigualdades sociais, sobretudo com a concentração populacional nos centros urbanos, decorrente do processo de industrialização; e d) o impacto da mudança social, ao serem incorporados novos valores e havendo mudança no modo de vida, sobretudo quando a noção de cidadania, ou seja, a efetivação de direitos não ocorre, deixando um vazio e a desesperança.
Acrescenta-se, conforme apontado no capítulo I, a expansão do consumo e o tráfico de drogas associados ao fortalecimento do crime organizado, favorecidos, principalmente, pela criação de novas tecnologias de comunicação e armamento. Neste caso, vale lembrar a política de incentivo ao comércio de armas, assim como o que representa para a economia nacional e internacional, juntamente com o comércio de drogas ilegais (CASTELLS, 2007).
No campo teórico, encontra-se um debate quanto à relação estabelecida entre pobreza e violência. Nesse aspecto adverte Angelina Peralva, que o cenário traçado pela "geografia das mortes violentas, que se concentram nas periferias pobres e não nos bairros ricos; a geografia das intervenções policiais, ou a população das prisões, [...] sugerem que a associação entre crime e pobreza é incontornável" (PERALVA, 2000, p. 81).
Em outros termos coloca-se Júlio Jacobo Waiselfisz, coordenador do Mapa da Violência, ao procurar desmistificar possíveis discursos que focalizam o problema da violência e da criminalidade na pobreza, assim como na pessoa do pobre ou, ainda, do negro, os quais têm se constituído no suspeito preferencial da ação policial. Nesse sentido, defende o mencionado autor, que o foco das discussões sobre a violência e a criminalidade não devem perder de vista a questão relativa à concentração de riqueza. Observa ele que os "estados muito violentos são aqueles que oferecem grande contraste entre riqueza e pobreza, onde a riqueza mora no meio da pobreza". Acrescenta, ainda, que esta "contradição marca, por um lado, elevados índices de violência, e por outro, afeta diretamente a juventude". (Waiselfisz, s/n, 2010)
Neste aspecto, constata-se que a concentração dos problemas sociais, nas comunidades pobres e por outro lado, a falta de proteção social têm contribuído para a vulnerabilidade social, sobretudo de jovens, que se constituem em presas fáceis aos interesses do tráfico de drogas e do crime organizado, seja como vítima, seja como agentes da prática de crime.
Diante da visibilidade pública do crescimento da violência e da criminalidade, sobretudo a partir da divulgação pela mídia de determinados casos, instala-se o sentimento de pavor e medo na sociedade, ao mesmo tempo em que vai sendo constata a sensibilização social para a complexidade do problema. Assim, a partir do início da década de 1990, à medida que passa a ser desvelado que práticas individualizadas são insuficientes para enfrentar o problema da insegurança pública, este vai sendo configurado como uma questão social, chegando a alcançar o debate político de forma similar a outros problemas sociais.
Convém pontuar que são diversificados os fatores contribuintes para conversão da Segurança Pública em bem de interesse coletivo e disputa política, merecendo, portanto, destaque: o processo de reelaboração social em torno das práticas de violência doméstica, conforme explicitado acima; o aumento dos conflitos sociais emergentes no contexto urbano, sobretudo decorrentes de uma nova sociabilidade impulsionada por mudanças de valores; a ampliação da vulnerabilidade social, chegando a atingir ricos e pobres, sobretudo frente à expansão do consumo e tráfico de drogas; ocorrências de atos criminosos cada vez mais com marcas de crueldade e barbárie; maior atenção por parte da mídia para a questão da violência e criminalidade, sobretudo quando ocorrem casos que envolvem vítimas de classe média; uma maior visibilidade pública dos casos de violência praticados por profissionais da segurança em serviço; a construção da noção de Segurança Pública como um direito humano e o fortalecimento da consciência política por parte da sociedade em torno da responsabilidade do Estado com essa questão.
Esses e outros fatores, associados à incapacidade do poder público (16) em responder velhas e novas demandas relacionadas à Segurança Pública, geram um clima de descontentamento generalizado por parte da sociedade com relação à política levada a efeito pelo Estado, impulsionando o debate político sobre a Segurança Pública.
As discussões políticas frente aos problemas relacionados à (in)segurança pública surgem significadas pelo que Eder Sader (1988), denomina de "novos movimentos sociais". Portanto, entram no cenário político grupos vulneráveis, que historicamente não eram reconhecidos como cidadãos de direitos, a exemplo das mulheres, idosos, criança e adolescentes, homossexuais, dentre outros, pautados pela reivindicação da garantia e pelo respeito ao direito humano à segurança.
De outro lado, colocam-se segmentos sociais com ideais considerados conservadores, associados a grupos hegemônicos da Segurança Pública, que percebem os Direitos Humanos como um agravante para a crise da segurança. Segundo seu entendimento o respeito a esses direitos e a democratização dos órgãos criminais tendem a contribuir para a impunidade e, conseqüentemente, para o aumento da violência e da criminalidade (CAPOBIANCO; MESQUITA NETO, 2004). Portanto, suas reivindicações orientam-se pelo endurecimento das leis penais e pelo aumento do poder das instituições policiais, que devem reger-se, primordialmente, pelo aumento da violência, com maior liberdade para aplicabilidade da força sem limites.
Nesse cenário de embate político surgem as reflexões teóricas sinalizando para a ressignificação da Segurança Pública, trazendo como paradigma os Direitos Humanos, compreendidos de forma integral nas suas várias dimensões (civil, política e sociocultural), tendo como referência o Estado democrático, contribuindo para uma visão ampliada de Segurança Pública, remetendo a mudanças substanciais.
Desse modo, a velha política de segurança passa a ser confrontada com novos paradigmas, demandando-se a ampliação dos seus eixos de atuação, para além da repressão, ao serem suscitadas ações preventivas de cunho social. Portanto, um dos pressupostos básicos para o processo de mudanças da segurança, consiste na implementação e implantação de políticas preventivas, fundamentadas na participação da comunidade, na articulação dos órgãos da Segurança Pública e demais políticas sociais, tendo como foco a diversidade sociocultural. Em outros termos, significa dizer que a única forma de enfrentar a insegurança é agir simultaneamente no front social e policial, sendo este último voltado a repressão qualificada (SOARES, 2006, p. 21).
Nesse sentido, segundo a visão ampliada de Segurança Pública, que vem sendo sinalizada pelo movimento da sociedade, entende-se que fica indicada a necessidade de discussão sobre o novo papel social dos profissionais da segurança, enquanto estes devem não apenas rever velhas práticas, como também devem incluir novos modos de fazer segurança pública.
Suscita-se, ainda, a ampliação do protagonismo na área de Segurança Pública, enquanto não só as unidades federativas e o Estado-nação são responsabilizados pela segurança, os municípios também são convocados a intervir, nessa área.
As novas demandas em torno da política de Segurança Pública remetem ao que Adailza Sposati (2002, p. 41) caracteriza como "questionamento do formato do contrato social em países de regulação tardia, ganhando centralidade as conquistas de direitos universais de cidadania". Com base nessa afirmação, conclui-se pela necessidade de alargamento da política pública de segurança, através da inclusão de segmentos sociais que foram historicamente excluídos do direito à segurança.
Uma nova política de Segurança Pública com essas características contribuirá no avança do processo de democratização contra a noção de Estado fraco, que não prioriza a garantia dos direitos do cidadão, conforme compreensão de Boaventura de Sousa Santos (2002b). Melhor dizendo, o que se reivindica é uma política de Segurança Pública democrática baseada no "fortalecimento do Estado", em sentido contrário ao recrudescimento da força/violência.
Suscita-se, portanto, um Estado forte inspirado no respeito às diferenças e na garantia dos Direitos Humanos de forma indiscriminada, de modo que a política de segurança venha a superar os entraves culturais herdados do autoritarismo político e social, segundo afirma Chauí (2007).
Conforme poderá ser visto no capítulo seguinte, o novo desenho da política de segurança, que se apresenta como resposta do governo federal às novas demandas sociais em torno do problema da (in)segurança pública difundida na sociedade brasileira, sinaliza para a possibilidade de democratização da segurança pública, ao rever o conteúdo, sujeitos de direito, objetivos e modo de intervenção da velha política tendo em vista a sua adequação ao Estado Democrático de Direito, observando, portanto, as diferenças e as desigualdades sociais.
Notas
1. Expressão preferencialmente usada por Daniel Aarão Reis (2002) para denominar a ocupação do governo brasileiro em 1964 pelos militares.
2. Segundo Heleno Cláudio Fragoso: "Essa doutrina, antidemocrática, foi introduzida na lei de segurança pelo Decreto-Lei nº 314, de 13 de março de 1967. De acordo com essa doutrina, objetos de proteção jurídica passam a ser certos objetivos nacionais permanentes, entre os quais se inclui a paz pública e propriedade nacional, elementos que levam a confundir a criminalidade comum com a criminalidade política." (Revista de Direito Penal de Criminologia, nº 35, Ed. Forense, RJ, de jan-ju. 1983, p. 60-69).
3. O entendimento de guerra, consoante a ESG, abrange todo espaço territorial, incorporando a totalidade dos esforços econômicos, político, cultural e militar, "rigidamente integrando todas as atividades em uma resultante única objetivando a vitória e somente a vitória, confundindo soldados e civis, homens e mulheres e crianças nos mesmos sacrifícios e em perigos idênticos e obrigando a abdicação de liberdades seculares e direitos custosamente adquiridos, em mãos do Estado, senhor todo-poderoso da guerra (...) mas, sobretudo, ampliou-se também na escala do tempo, incorporando em si mesma o pré-guerra e o pós-guerra como simples manifestações atenuadas de seu dinamismo avassalante - formas larvadas da guerra, mas no fundo guerra" (General Golbery Couto e Silva In: ALVES, 1987, p. 36).
4. Tradução nossa.
5. A paz social era apresentada como elemento indispensável à obtenção do crescimento econômico, remetendo-se ideia de "desenvolvimento com segurança", segundo Alves (1987, p. 51).
6. O Conselho de Segurança Nacional contava com a presidência do Governo Federal, constituído pelos ministros de Estado, assim como pelos chefes de Estado Maior do Exército e da Marinha (BRASIL, Art. 62, CF, 1937). Ao seu presidente cabia a direção geral da guerra (BRASIL, CF. 1937, Art. 163).
7. "O manual da ESG exemplifica como situações de 'pressão' (aquelas) que exigem 'ações de emergência', as resultantes 'da efetivação ou iminência de guerra, insurreição, distúrbios civis, greves ilegais, inundações, incêndios e outras situações de calamidade pública" (In: ALVES, 1987, p. 44).
8. O general Costa e Silva foi ministro da guerra do governo anterior.
9. A "necessidade de reconhecimento da humanidade se encontra nos três elementos do estatuto jurídico do cidadão: o civil, o político e o social. Os direitos civis apóiam-se amplamente no reconhecimento do direito a ser tratado como ser humano; os direitos políticos baseiam-se no reconhecimento da igualdade de cada membro da comunidade política; os direitos sociais fundamentam o reconhecimento da reivindicação de proteção social" (VIDAL, 2003, p. 280-281).
10. "As discussões sobre representação social conduzem a um modo de olhar da psicologia social, enfocando os fenômenos do ponto de vista social e cultural", rompendo com uma visão dualista do mundo individual e do mundo social (RIQUE; SANTOS, 2004, p.29).
11. O controle social efetiva-se a partir do "processo de mobilização social de acordo com a capacidade da sociedade civil de interferir na gestão pública. Isso se viabiliza de forma coletiva, através da apropriação de processos, participação na deliberação, fiscalização das ações estatais, avaliação e crítica, (re)orientando as ações e prioridades do Estado" (PEDRINI et al, 2007, p. 226).
12. Segundo Santos (2002a, p. 67), entre 1997 e 2000, foram registradas 140 gestões municipais que empregaram o orçamento participativo.
13. Os dados foram analisados através de informação de homicídios ocorridos no Brasil de 1979 a 1997. Adorno adverte para a falta de confiabilidade dos dados da violência e da criminalidade, no Brasil, pois os dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública apresentaram distorções com relação aos apresentados pelo Ministério da Saúde, referentes ao mesmo período (ADORNO, 2003).
14. Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros elaborado a partir de dados do Sistema de Informação de Mortalidade, do Ministério da Saúde, numa produção conjunta da Rede de Informação Tecnológica Latino Americana (RITLA), do Instituto Sangari e dos Ministérios da Saúde e da Justiça, janeiro de 2008, Brasília.
15. Inexistem estudos que expliquem a redução de homicídios, nesse período.
16. Os poderes públicos sejam eles em nível parlamentar ou do executivo, perpassando a esfera federal, estadual e municipal, só têm se preocupado em apresentar medidas em nível discursivo, e mesmo assim só quando são fortemente provocados, em face de um fato violento de grande repercussão na mídia, especialmente quando as vitimas são situadas a partir da classe média. Mesmo assim, os discursos são primordialmente no sentido de recrudescimento da força ou o endurecimento da pena.